Bruno R. Sales
Πάντες ἄνθρωποι τοῠ εἰδέναι ὀρέγονται
φύσει [1] – Todos os homens, por
natureza, desejam conhecer. Essa sentença, legada por Aristóteles à
posteridade, demonstra a síntese do que é ser humano, a saber: um ser cuja
ambição básica é conhecer. Mas, o que desejamos conhecer? Tudo o que estiver ao
nosso alcance, desde a fofoca na rua até os mistérios que se escondem na
imensidão do universo. E mesmo assim somos insatisfeitos e constantemente
tentamos ir além de nossos limites, testando até onde nossa racionalidade pode
apetecer tal anseio.
Esse desejo natural por
conhecimento, que poderíamos sem problemas traduzir de modo popular por
curiosidade, é objeto de discussão a tempos, desde antes de o próprio
Aristóteles escrever a frase acima citada. As ideias que foram se acumulando de
lá para cá possuem, em certa medida, elementos comuns. Por exemplo, a ideia dos
múltiplos meios de conhecer, sensível e suprassensível; ou ainda, a consciência
de saber que sabe e que pode saber das coisas. Trago apenas essas duas definições
para exemplificar de modo bastante grosseiro. Contudo, no presente texto, quero
considerar o desejo por conhecimento em sua relação com o tempo.
Por conhecimento tenho em mente a
sua significação mais generalizada: saber das coisas e sobre as coisas. Já o
tempo, aqui, será tratado como uma categoria que permite ao homem reconhecer o
Ser ou Não-ser das coisas. Isso significa que, quando se considera o tempo, simultaneamente
tem-se em mente o Ser e o Não-ser. Isso significa que a temporalidade exige a
mínima ideia de existência ou de possibilidade dela. Essa noção de existência é
dupla, pois deve considera-la como existência de si e, de igual modo, da coisa
que se conhece ou quer conhecer. [Mesmo que esta última esteja se referindo a
algo que não existe na realidade, mas apenas na imaginação, portanto, uma
existência inteiramente dependente da consciência do sujeito].
O tempo, de acordo com Kant, é uma
intuição a priori da razão, isto é, ele independe da experiência
sensível para que se saiba a seu respeito e de sua afetação sobre o sujeito em
sua capacidade de conhecer. Desse modo, “o tempo é uma condição a priori
de todo fenômeno em geral, e na verdade a condição imediata dos fenômenos
internos (das nossas almas) e por isso mesmo também mediatamente a dos
fenômenos externos” [2]. Nesses termos, o tempo
não é uma realidade ontológica, ou seja, não subsiste por si mesmo, mas é uma
intuição da mente humana sem a qual o conhecer não seria possível, posto que,
tudo que se pode conhecer deve ter alguma relação com ele.
Mas, se dissermos que o conhecimento
depende do tempo, como é possível qualquer conhecimento sobre algum ser que o transcenda?
Em sua profundidade, essa discussão considera o tempo, mas tão somente como uma
via negativa, isto é, o tempo como não-tempo. Em outros termos, o ser
transcendente da realidade espaço-temporal, é um ser dito eterno; a eternidade
é concebida como um presente perpetuo, sem devir. Desse modo, o tempo é tempo
enquanto presente, entretanto, também pode ser considerado como não-tempo,
quando é observado como devir ou sucessão de períodos. Com isso tem-se outra
situação a levar em conta, em relação ao Ser e tempo o conhecimento se dá, em
sua generalidade, de duas formas: uma sobre o Ser fora do tempo, isto é, o ser
transcendente; e outra do ser temporal, ou seja, a existência vista como devir
do ser (o ente). Em virtude da proposta do texto, ater-me-ei somente a este
último.
O
tempo-devir é aquele com o qual estamos mais acostumados, se assim se pode
dizer, pois ele, psicologicamente [3], nos afeta com sua
tripartição: passado, presente e futuro. E nosso conhecimento também é afetado.
Mas antes de falar disso, é preciso retomar as relações entre Ser e tempo.
Assim, a tripartição também tem sua maneira própria de relacionar-se com o ser.
Basicamente, segue-se assim:
Ser → presente = ato = ação atual [actio]
Ser ou Não-ser possível → futuro = representação [representatio] = ação – imaginativa
– dedutiva
Ora, o passado está para o Não-ser
em função de sua não-existência. Contudo, ele também está como uma recordação [recordatio],
ou seja, uma ação retroativa de conhecimento, pois trata-se de uma anamnese,
certa rememoração de um conhecimento já tido, porém, esquecido. O presente está
para o Ser em função da sua existência como ato, isto é, ação atual [actio];
isso tão somente significa que no presente o conhecimento é visto a partir do
ser existente naquele momento. O futuro é sempre incerto e, em função disso,
sua relação com Ser e Não-ser não possui definição categórica, mas apenas na forma
de probabilidades. Isso significa que as possibilidades do futuro são
representações [representatio] de possíveis ações. Essa capacidade de
representar o futuro acontece por meio de três capacidades da razão:
imaginação, dedução e indução.
A dedução e a indução são processos
já conhecidos. Ambos são frutos da racionalidade crítica e avaliativa. Nesses
dois processos a razão avalia o passado e o presente e expõe, ainda que de modo
tênue, as possibilidades do futuro. Elas, então, são processos que garantem um
conhecimento hipotético, porém, com certo grau de segurança, pois está
assentado na criticidade racional; a incerteza permanece presente, mas a
certeza também adquire sua porcentagem nessa situação.
Entretanto, a imaginação, em relação ao futuro,
é a mais enganosa, pois ela põe em jogo ideias baseadas em simples acaso e
suposições, sem nenhum critério de julgamento. Em termos simples, a imaginação
gira em torno da possibilidade das possibilidades, portanto, trata-se de mera
expectativa diante das coisas que se quer saber [talvez aqui, o saber deve ser
tido como experiência; isso evidencia que o conhecimento, no que diz respeito
ao futuro, é também baseado na esperança de uma experiência de apreensão, não
da apreensão em si].
Ser e tempo são basilares para o conhecimento, acredito que isso seja evidente. Nada daquilo que soubemos, sabemos e saberemos está independente dessas relações. O humano como ser existente temporariamente nessa terra, apreende as coisas de acordo com que lhe é permitido ser. Em resumo, para findar esse texto, somos seres e temporais, portanto, tudo o que conhecemos depende do ser e do tempo.
[1] Metafísica, Lib.
I, 980a - ARISTÓTELES. Metafísica vol II. Ensaio introdutório, tradução
do texto grego, sumário e comentários de Giovanni Reale. São Paulo. Edições Loyola.
2002. p. 3.
[2] KANT, Immanuel. Crítica
da Razão pura. São Paulo, Nova cultural, 1999. (Os pensadores); p. 79.
[3] Digo
psicologicamente em concordância com Agostinho de Hipona que via no tempo uma
distensão da mente em relação a um antes e depois [cf. Confissões, Lib. XI, 23ss.]
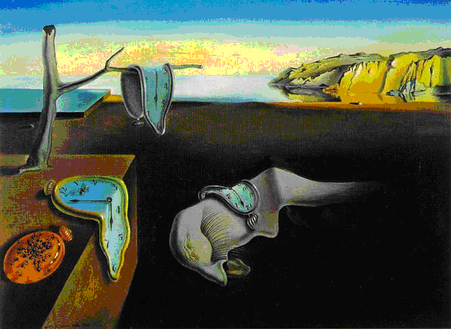


/imgs.jusbr.com/publications/images/5feb5cccbbcd90296faba573b1d4f28f)


